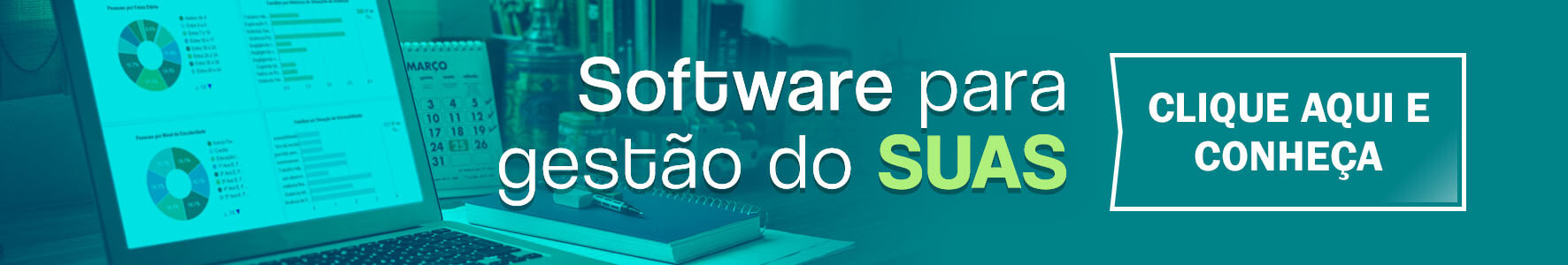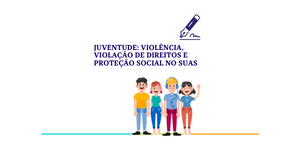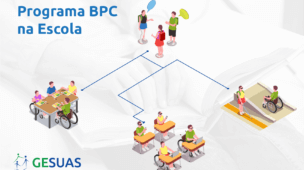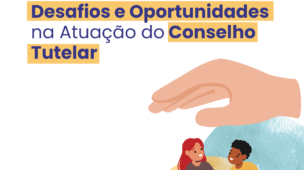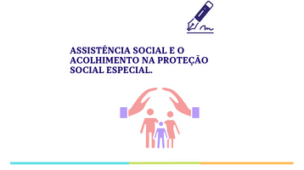Tempo de leitura: 6 minutos
Por Thayana Ribeiro
No presente texto, busca-se demonstrar como a universalização da Assistência Social — um dos princípios que regem o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) — visa garantir a todos os cidadãos em situação de desproteção social o acesso equânime aos serviços, garantindo equivalência às populações urbanas e rurais.
O princípio da universalidade na Assistência Social determina que essa política pública deve ser acessível a todas as pessoas que dela necessitem. Trata-se de um direito garantido pela Constituição Federal de 88 (art. 203), “que reconhece a Assistência Social como uma política não contributiva, ou seja, desvinculada de contribuições previdenciárias, e voltada à proteção social de cidadãos em situação de vulnerabilidade ou risco social”.
Entre os princípios que fundamentam essa política e asseguram sua organização, funcionamento e o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o território brasileiro, destacam-se, além da universalização do direito, os princípios da integralidade das ações e da intersetorialidade. Todos esses princípios são fundamentais para uma oferta adequada de serviços e benefícios socioassistenciais.
É importante frisar que o caráter universalizante da Assistência Social inclui a universalidade da cobertura e do atendimento. A partir de serviços que visam enfrentar e responder às vulnerabilidades associadas à fragilidade de convivência, à exclusão social e ao risco ou violação de direitos.
Entretanto, para que essa oferta ocorra de forma efetiva e, de fato, alcance as populações em situação de vulnerabilidade — promovendo a superação das desigualdades e a inclusão social —, é imprescindível considerar, de maneira contínua, a territorialização e a integralidade das ações.
Além disso, essas ações também devem ser articuladas com as demais políticas setoriais, a fim de assegurar garantias sociais, fortalecer as condições de dignidade e fomentar o protagonismo das famílias. Dessa maneira, sendo possível pensar na consolidação de uma política pública verdadeiramente universalizante capaz de responder às diversas expressões da questão social.
Portanto, entende-se que os caminhos propostos para a universalização da proteção social não contributiva do SUAS, faz-se necessário como alternativa para “rompimento da relação de subalternidade que historicamente envolveu a política pública social”. Em outras palavras, que responsabiliza e culpabiliza individualmente a pobreza, apesar desta tratar-se – como bem sabemos – de um fenômeno multidimensional e estrutural – com raízes históricas, sociais, políticas e econômicas.
Para além da ampliação da cobertura do atendimento na Assistência Social, consideramos a necessidade do mapeamento dos territórios, identificando as fragilidades e potencialidades locais, e da execução de ações coordenadas nas áreas mais vulneráveis. Do ponto de vista ideológico, compreendemos a necessidade de ampliar essa discussão na compreensão de abordar o traço moralista que, ainda hoje, atravessa a politica de assistência social e permeia o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade e sua inclusão em serviços e benefícios.
Assim, podemos refletir que garantir o caráter universal da política de Assistência Social “exigirá ações estruturantes, como a expansão da cobertura, o fortalecimento dos equipamentos públicos, a qualificação dos profissionais e a articulação intersetorial, além de um enfrentamento claro às visões moralizantes que ainda persistem no imaginário social”.
Persistem resquícios de uma concepção assistencialista fundada na caridade e na benesse, que desconsidera a Assistência Social como um direito garantido constitucionalmente. Soma-se a isso o discurso social que sustenta a ideia de que a manutenção de benefícios pode levar à acomodação dos sujeitos em situação de privação, o que revela uma compreensão equivocada e estigmatizante da política pública.
Tais perspectivas nos interrogam sobre os obstáculos ainda presentes na efetivação da política de Assistência Social como direito. Entre eles, destaca-se a dificuldade de acesso aos serviços, muitas vezes causada por avaliações técnicas equivocadas, limitadas, moralistas e superficiais, que acabam por reproduzir desigualdades e restringir o alcance das ações.
Uma política que pretende se amparar no respeito à dignidade da pessoa, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, é vedado qualquer comprovação vexatória de necessidade, assim como, se faz fundamental a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos expressos na legislação.
Nesse contexto, é possivel refletir que, por um lado, no que se refere às condicionalidades impostas aos benefícios de transferência de renda, embora estas tenham, em princípio, o objetivo de assegurar a efetivação de direitos fundamentais, como o acesso à saúde e à educação — reconhecidamente garantidores da dignidade da vida humana —, por outro lado, é preciso interrogar sobre como tais exigências podem enfraquecer a concepção da Assistência Social como um direito.
Isso ocorre na medida em que a condicionalidade passa a ser um critério para a provisão social, na medida que se espera, antecipadamente, certos comportamentos das famílias em situação de pobreza, os quais são muitas vezes nomeados como “responsabilidades”. Tal lógica desloca o foco da responsabilidade do Estado para o indivíduo, desconsiderando aspectos importantes como as limitações estruturais e a escassez de ofertas públicas efetivas, que impactam direta e indiretamente na qualidade e alcance da política.
Nesse cenário, em vez de promover a emancipação e a dignidade, as condicionalidades, podem reforçar práticas punitivas e seletivas, marcadas por avaliações normativas e moralizantes, que restringem o acesso aos direitos e perpetuam o estigma sobre a população pobre, fragilizando o caráter universal da política.
Portanto, retomamos novamente que o atendimento na Assistência Social deve-se dar sem julgamentos de valor sobre os comportamentos, perfis familiares ou méritos individuais, ou seja, livre de qualquer discriminação.
Por fim, compreende-se que o caminho para a efetivação da universalidade dos direitos no âmbito da Assistência Social passa, necessariamente, pela integração dos programas de transferência de renda às redes de proteção socioassistencial, bem como pela qualificação dos atendimentos, realizados de forma sistematizada e em articulação com as demais políticas públicas e leitura abrangente sobre os territórios cobertos.
Essa construção deve considerar as demandas específicas das famílias e as particularidades dos territórios, de modo a garantir respostas mais eficazes às situações de riscos e exclusão social.
Pra finalizar, compreedemos, portanto, que a luta pelos direitos sociais têm como premissa o reconhecimento das dimensões coletivas que envolvem esses processos materializados pela Política de Assistência Social.
Leia também: Conferência Municipal de Assistência Social: porque e como organizar!
20 anos do SUAS: a participação social como instrumento da democracia